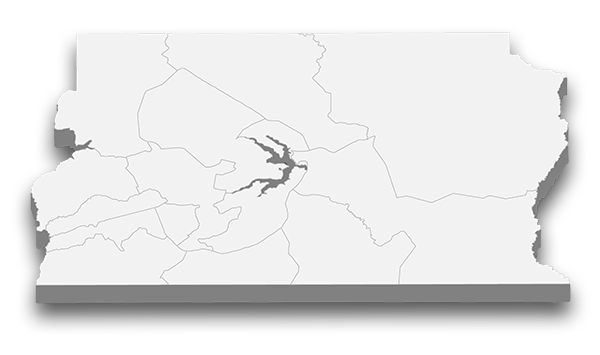Se depender da saúde, o Brasil levará bem mais do que os dez ou 20 anos estimados pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, para desfrutar de um padrão de vida semelhante ao europeu. Hoje, segundo estimativa de especialistas, o país investe na área cerca de 8% do PIB, dos quais 3,5% provêm do setor público e o restante da iniciativa privada, principalmente sob a forma de planos suplementares. Já países como Áustria, Dinamarca, França, Alemanha, Holanda e Suíça foram ampliando progressivamente sua taxa de investimento em saúde nos últimos anos, chegando a atingir em 2009, de acordo com dados da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), entre 11% e 12% do PIB — os Estados Unidos alcançaram a marca de 17,4%.
Na maioria deles, ao contrário do que ocorre no Brasil, a participação do governo é majoritária, tendo oscilado entre 70% e 80% no mesmo período. Resultado? “Nossos indicadores básicos de saúde, tais como expectativa de vida ao nascer, mortalidade infantil e mortalidade materna, correspondem aos dos países desenvolvidos nas décadas de 1960 e 1970”, diagnostica Marcos Bosi Ferraz, professor do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e diretor do Centro Paulista de Economia da Saúde (CPES), lembrando que a taxa de investimento do Brasil no setor corresponde à daqueles países há 30 anos.
Seu colega Áquilas Mendes, professor de Economia da Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP (Universidade de São Paulo), acrescenta que, de 1995 a 2011, o governo federal investiu somente 1,7% do PIB no setor, cabendo o restante aos estados e municípios. “A esperança era a de que a regulamentação da Emenda no 29 mudasse a base de cálculo da União, passando a determinar a aplicação de 10% das receitas correntes em saúde. Com isso, somente em 2011, teríamos obtido mais R$ 32 bilhões. Embora ainda não fosse o ideal, porque o gap de investimento público anual como proporção do PIB que nos separa da média dos países centrais representaria R$ 82 bilhões, já seria um avanço”, afirma. Mendes ressalta que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, que instituiu no Brasil o conceito de saúde universal como direito dos cidadãos e dever do Estado, nenhum dos governos subsequentes cumpriu à risca a destinação de recursos determinada pela lei. “Até hoje, não conseguimos resolver a questão do financiamento do sistema de saúde no país. É uma história de desconsideração que já dura mais de duas décadas”, diz o professor da USP.
Justificativas
Ele aponta pelo menos dois fatores, ambos de ordem econômica, capazes de explicar esse quadro. O primeiro está ligado ao momento de concepção da Carta de 88. “Na época, o mundo já havia ingressado em uma nova fase, com o declínio do Estado do bem-estar social e o fortalecimento do capital financeiro, que invadiu os orçamentos públicos, passando a comprometer suas receitas com o pagamento de juros da dívida pública, em detrimento de outros setores. Ou seja, do ponto de vista histórico, nosso sistema de políticas sociais foi tardio”, analisa Mendes.
O segundo aspecto, de acordo com o professor, tem relação com o modelo econômico implantado em 1994 pelo Plano Real. “É uma política restritiva, voltada ao controle da inflação e à geração de superávits primários, o que acaba implicando cortes nas áreas sociais.” Marcos Bosi Ferraz acrescenta que a sensação de ineficiência aumenta à medida que o país cresce e se integra ao mundo desenvolvido. “Hoje, por conta da informação, o desejo de consumir produtos e serviços que agregam valor à saúde, seja em matéria de diagnósticos, cirurgias ou medicamentos, é tão grande no Brasil quanto nos países centrais, só que não temos capacidade de resposta porque nos falta fôlego para investir. Apesar de sermos o sexto PIB do planeta em termos absolutos, nosso PIB per capita é muito inferior ao de economias desenvolvidas que estão atrás de nós nesse ranking.”
O diretor do CPES alerta que o descompasso pode se agravar em função do que classifica como três “bombas-relógio” que estão ativadas e em contagem regressiva. A primeira é que, de acordo com Ferraz, a população brasileira de idosos deverá dobrar de 7% para 14% nos próximos 20 anos, sobrecarregando o sistema de saúde, mas, ao contrário do que prevê o ministro Mantega, o país não conseguirá tornar-se economicamente desenvolvido nesse período, em que pese a oportunidade representada pelo bônus demográfico. “Para que se tenha uma ideia, países como França, Suécia e Estados Unidos demoraram 115, 85 e 69 anos, respectivamente, para atingir essa taxa. Ou seja, tiveram tempo suficiente para se desenvolver do ponto de vista econômico e social”, destaca. A segunda “bomba” diz respeito ao fato de que, nesse cenário de envelhecimento da população, a demanda da Previdência Social por recursos tende a aumentar e, portanto, a absorver uma maior parcela dos recursos do Orçamento da Seguridade Social, em detrimento de áreas como Saúde e Assistência Social. Já a terceira ameaça refere-se à instabilidade do sistema de saúde suplementar, no qual, segundo Ferraz, entre 65% e 70% dos 42 milhões de beneficiários dependem de planos coletivos pagos parcial ou integralmente pelo empregador. “Pela legislação vigente, grande parte dos desempregados recentes ou aposentados tende a retornar ao SUS, onerando o sistema”, afirma.
Com base em dados consolidados nos últimos dez anos, o diretor do CPES faz uma simulação interessante. Segundo ele, como a inflação dos gastos em saúde chega a ser o dobro da aferida pelos índices gerais de preços — dada a expansão acelerada da oferta de serviços e tecnologias de vanguarda —, a economia brasileira terá que crescer pelo menos 5% ao ano nos próximos 20 anos para simplesmente manter o sistema atual em operação, considerando-se que a média de investimento em saúde permaneça em 8% do PIB. Se a taxa de crescimento do país recuar para cerca de 3%, como ocorreu em 2011 e estima-se para 2012, a necessidade de financiamento para manter o sistema aumentaria para até 15% do PIB. “A questão é saber aonde queremos chegar, com metas e objetivos de longo prazo definidos. Um ativo muito valioso e pouco considerado na área da saúde são os dados e informações de qualidade. Nesse terreno, também temos um gap brutal em relação aos países desenvolvidos”, destaca.
Equilíbrio
Tanto Marcos Ferraz quanto Áquilas Mendes concordam que não há modelo ideal, e que a receita para a sustentabilidade de um sistema de saúde inclui doses equilibradas de eficiência e bom-senso. “Os Estados Unidos, por exemplo, adotam um sistema híbrido, público e privado”, explica Ferraz. “O público destina-se a duas ou três situações específicas, tais como a dos indivíduos abaixo da linha de pobreza, que não contam com nenhuma rede de suporte, e os aposentados e idosos, que em alguns casos até pagam para ter direito a um atendimento melhor.” Já no Canadá, diz ele, o Estado é o único pagador. A participação do sistema suplementar ocorre por meio de seguros que complementam a cobertura pública, seja para acessar serviços não incluídos, obter um upgrade nas condições de internação ou adquirir medicamentos. “São diferentes modelos para assegurar serviços com universalidade, integralidade e equidade”, explica Ferraz.
No caso do Brasil, o diretor do CPES ressalta a importância de o Estado exercer com firmeza seu papel de formulador de políticas públicas, de modo a estabelecer prioridades tendo em vista a realidade local. “A decisão de quando e como alocar recursos transcende o sistema de saúde. Em um país como o nosso, de nada adianta, por exemplo, competir por R$ 1 a mais para a saúde, se esse dinheiro for retirado da educação. Afinal, educação, saneamento básico, transportes, habitação e alimentação concorrem para produzir saúde.”
Ideias sobre como administrar a escassez de recursos e criar novas fontes de financiamento não faltam. Áquilas Mendes, da USP, defende medidas ousadas. “A França está instituindo uma contribuição social geral que incide sobre a renda de toda a população, o que nos leva a uma reflexão importante: embora cresça muito mais do que a produção, a movimentação financeira é pouco taxada no Brasil. A alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) é de 9% para o sistema financeiro e 11% na indústria. Poderíamos tributar mais o capital financeiro e as grandes fortunas para obter receita para a saúde. Já há, inclusive, dois projetos nesse sentido tramitando na Câmara. A classe média rejeitou a CPMF, mas não se deu de conta de que era um tributo progressivo, ou seja, onerava mais quem movimentava mais recursos”, observa.
Taxação
Entre as possíveis medidas visando ao financiamento do setor, Mendes cita ainda a taxação da remessa de lucros e dividendos de empresas multinacionais ao exterior e a revisão da renúncia fiscal para a área de saúde concedida no âmbito do Imposto de Renda, pessoas física (IRPF) e jurídica (IRPJ), entidades civis sem fins lucrativos e indústria farmacêutica. Os valores impressionam. Segundo o professor da USP, entre 2007 e 2011, as isenções cresceram de R$ 2,3 bilhões para R$ 4,8 bilhões no IRPF; de R$ 1,9 bilhão para R$ 3,1 bilhões no IRPJ; de R$ 2 bilhões para R$ 4,3 bilhões em medicamentos; e de R$ 1,6 bilhão para R$ 2,4 bilhões nas entidades sem fins lucrativos. O total chega a quase R$ 15 bilhões. “É uma contradição, porque o gasto abatido no âmbito privado acaba sendo arcado pelo setor público. Em Portugal, criou-se um limite para essas deduções na saúde, assim como existe na educação aqui no Brasil. A ausência de parâmetros gera iniquidades, pois não faz sentido o Estado ‘pagar’ por cirurgias estéticas e outros procedimentos do gênero”, enfatiza o professor da USP.
Números à parte, Marcos Ferraz não tem dúvida de que, mais do que ampliar receitas, é fundamental reconhecer limites e fazer escolhas quando se trata de saúde. “Temos que ser realistas: é uma ilusão achar que é possível dar tudo a todos nessa área. Nenhum país do mundo conseguiu isso. Desde as décadas de 1960 e 1970, países como Reino Unido, Austrália, Canadá e Holanda começaram a aplicar princípios econômicos à saúde para definir critérios e orientar decisões, confrontando, por exemplo, o custo das tecnologias com os benefícios produzidos em termos de ganho de expectativa de vida para a população. Aqui, sob esse aspecto, estamos na Idade da Pedra. Se perguntar a um secretário de Saúde ou ao ministro quais são as prioridades, eles mostrarão uma lista com cem, o que significa não ter nenhuma.”
Outra tendência do mundo desenvolvido, segundo o diretor do CPES, é a crescente conscientização do indivíduo como principal agente de sua saúde, seja no que diz respeito a hábitos de vida ou escolhas de tratamentos. “O Estado paternalista, que cuidava de todos os doentes, está começando a dividir responsabilidades. Se eu sei que fumar é prejudicial à saúde, mas continuo fumando, preciso arcar com as consequências dessa prática. Não é justo que o coletivo pague por minha irresponsabilidade. Da mesma forma, aquela história de ‘doutor, estou em suas mãos’ está acabando. Hoje, o médico apresenta as opções, as vantagens e desvantagens de cada terapia, e tenta ajustar a decisão à vida do paciente. Tratamos mais de qualidade do que de quantidade de vida, o que faz diferença nos custos. Mas a palavra final é sempre do paciente.”
FONTE: Cláudio Accioli – Revista Conjuntura Econômica – Março de 2012